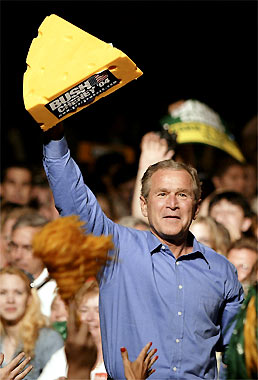OP, Porto Alegre, Jornalismo, Bolsa Escola e PT

O que mantém o PT há 16 anos no poder em Porto Alegre é uma coisa chamada Orçamento Participativo (OP). A inclusão dos cidadãos, por meio da participação ativa das comunidades na escolha do destino das verbas municipais, impediu que Maluf´s da vida construíssem viadutos que não diminuem engarrafamentos ou pontes que ligam nada a lugar nenhum.
Aqui em Guarapari, as eleições municipais têm deixado claro esse processo. Dos candidatos a prefeito, quatro dos três concorrentes já exerceram o cargo pelo menos uma vez. A campanha, neste caso, implica em propagandear as obras realizadas com o dinheiro do povo: vangloriar-se de ter feito nada mais do que a obrigação.
Com o orçamento participativo a transparência na administração é maior. Há como o cidadão decidir onde o dinheiro da prefeitura (que é dele, na verdade) será investido e acompanhar como esse dinheiro foi investido.

O OP transformou Porto Alegre na capital modelo da esquerda no mundo e este é, vale dizer, um dos motivos pelo qual ela hospeda o Fórum Social Mundial e tornou-se referência.
Como precisa de mobilização da população para funcionar, o OP ajuda desenvolver nas pessoas princípios de cidadania. Com ele, é possível caminhar para uma democracia participativa, na qual os cidadãos é que de fato governam.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Infelizmente, transparência é algo que não interessa à maioria dos políticos. Muito menos dividir o “poder” com a população. Talvez por isso o OP não agrade a muitos prefeitos e governadores.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Muita gente coloca o neoliberalismo como único caminho possível para a “sociedade pós-industrial”, aparentando acreditar na falaciosa teoria do “fim da história” e usando o clichê hobbesiando que diz que “o homem é o lobo do homem” para nos convencer de que um sistema baseado em princípios mais solidários seria impossível.

A experiência de Porto Alegre vai no sentido contrário desse discurso, mostrando que, mesmo no mundo de hoje, é possível pensar no bem comum.
Um exemplo: a definição de onde será investido o dinheiro no orçamento participativo é feito por meio de reivindicações dos bairros em assembléias destinadas para este fim. Na história do projeto em Porto Alegre, constam exemplos de bairros que deveriam receber investimentos num determinado mês e abriam mão do benefício em favor de outro mais necessitado.

Pode-se alegar que este é um exemplo pontual, uma exceção à regra. Mas não é. Exemplos como este pululam no Fórum Social Mundial, o que mostra que o problema, muitas vezes, está na pouca visibilidade que se dá a iniciativas desse tipo. E aí chegamos mais uma vez à questão da responsabilidade social do jornalismo.
Na minha modesta opinião de estudante, creio que para cumprir seu papel social no mundo contemporâneo, a mídia não deveria limitar-se à cobertura política mais-do-que-convencional, na qual só recebem destaques as intrigas palacianas e as articulações partidárias. Um jornalismo socialmente responsável deveria entender a democracia num sentido mais amplo, dando maior visibilidade aos movimentos sociais, ao terceiro setor, às minorias. Atender o interesse público numa sociedade multifacetada, significa privilegiar a diversidade, a multiplicidade de pensamentos, opiniões e estilos de vida.
O jornalismo brasileiro, hoje em dia, vai justamente na contramão dessa diversificação, dessa polifonia. A semelhança entre as publicações impressas e entre as coberturas televisivas é cada vez mais absurda. O padrão Globo se impôs de forma massacrante, com toda a homogeneidade e superficialidade espetacular que lhe são próprias.
Aqueles que se apegam aos “fatos” para justificar sua descrença no ser humano o fazem ou por ignorância ou por má fé. Ninguém pode apoiar-se, hoje em dia, nos fatos (num sentido de totalidade), mas em fatos. E se os fatos nos quais buscamos apoio resumem-se àqueles divulgados pela grande mídia, fica praticamente impossível justificar qualquer posicionamento diante da vida ou da humanidade.

O maior pecado do governo Lula é descumprir sua promessa de fazer um governo participativo, que tivesse como um dos princípios básicos o diálogo com a sociedade. As reclamações do terceiro setor com relação ao governo federal apontam nesse sentido.
Talvez avaliar com mais seriedade os exemplos da prefeitura do PT em Porto Alegre possa apontar caminhos para o PT de Lula reencontrar-se com as próprias origens, que estão lá nos movimentos sociais, no sindicalismo e na participação.

O exemplo do Bolsa Escola mostra como o governo Lula distanciou-se da realidade ao mergulhar num economicismo hermético que remete à administração neoliberal de FHC. Em seu blogue, Cristóvão Buarque denunciou que o governo não está acompanhando nem o desempenho nem a freqüência dos alunos que recebem o dinheiro do programa. Ou seja, o projeto transforma-se em puro assistencialismo, uma extensão do já tão criticado Fome Zero.
Criticado por todos os lados, o governo decidiu suspender o programa (que estava sendo utilizado para fins eleitoreiros em alguns municípios). Para quem recebia a bolsa, foi como dar com uma mão e retirar com a outra. Ponto negativo pro governo, pelo menos enquanto o projeto não for reformulado e mecanismos mais eficientes de fiscalização comecem a funcionar (quem sabe com a ajuda do terceiro setor?).

A saída de Gabeira do PT, já há um bom tempo, foi sintomática. O PT fez com Gabeira o que a mídia já fizera outrora com ele e com uma infinidade de pontos de vista alternativos (a diversidade comentada acima). Rotular Gabeira de excêntrico foi suficiente para tornar inválido o discurso do ex-guerrilheiro. Reforçaram, assim, a imagem caricata que a população tem de Gabeira.
Gabeira e Buarque foram duas figuras que o novo PT (federal) fez questão de marginalizar. As idéias de ambos talvez não dessem ao governo a visibilidade almejada. Visibilidade que Duda Mendonça consegue com muito mais eficiência, distribuindo bandeirinhas no 7 de Setembro.

Embora continue considerando que o PT ainda é (e por muito tempo continuará sendo) a melhor opção política no Brasil, é impossível não reconhecer o quanto este governo tem enfiado os pés pelas mãos, preferindo os holofotes às medidas discretas e eficientes.
Repito, o PT precisa se reencontrar com suas origens e valorizar mais as boas idéias que surgem de cabeças privilegiadas dentro do partido. Se não fizer isso, o processo de esvaziamento vai se intensificar cada vez mais, até não haver mais volta.